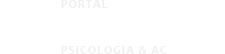No Brasil, ser honesto muitas vezes parece uma ousadia — e esse dilema, que marcou gerações, volta a ganhar destaque com a nova versão da novela Vale Tudo, exibida originalmente em 1988 e atualmente em reprise com novo elenco em 2025. Raquel e Maria de Fátima, protagonistas dessa história, seguem ressoando com força no imaginário nacional, simbolizando o embate entre integridade moral e ambição desmedida. Mas e se lêssemos esse conflito mãe-filha com as lentes da Análise do Comportamento? Mais especificamente: como a teoria do responder relacional pode nos ajudar a entender por que a rigidez moral de Raquel, em vez de educar, pode ter empurrado sua filha para a desonestidade?
Neste artigo, refletimos sobre o comportamento moral de Maria de Fátima sob uma perspectiva contextual — onde o conflito entre regras morais absolutas e contingências culturais ambíguas gera um colapso funcional. A história da ambiciosa influenciadora digital que Maria de Fátima representa hoje não é sobre a perda da ética, mas sobre como a ausência de espaço para matizes morais pode produzir padrões desadaptativos de comportamento.
Raquel: a honestidade sem concessões
Raquel, a mãe, representa o ideal ético. Trabalha duro, não aceita atalhos, valoriza o mérito individual e acredita que o caráter é mais importante que qualquer conquista material. Em termos da Análise do Comportamento, poderíamos dizer que Raquel se comporta sob controle de regras explícitas rígidas, adquiridas em uma cultura que, paradoxalmente, não reforça sistematicamente os comportamentos que ela valoriza.
Ela acredita, como sugerem autores como Gomide (2010) e Abib (2001), que a honestidade é um valor universal — não relativo, não condicionado. Sua ética não admite gradações: ou se é íntegro, ou não se é. Essa rigidez, no entanto, não considera a complexidade relacional da cultura onde vive, como bem alertam Zilio & Carrara (2009): valores morais não existem fora dos contextos que os selecionam.
Maria de Fátima: entre molduras culturais e ausência de nuance
Fátima, por outro lado, é sensível ao ambiente. Uma aspirante a influenciadora digital, atenta às lógicas do algoritmo, à performance estética, à viralização. Desde jovem, ela derivou relações como:
“Quem tem dinheiro é valorizado”
“Quem mente pode ganhar vantagem”
“Ser ética = ser tola”
Estas são relações derivadas — não foram ensinadas diretamente, mas emergiram de sua vivência em uma cultura onde corrupção e esperteza são frequentemente recompensadas. Segundo a Teoria das Molduras Relacionais (RFT), esses aprendizados ocorrem por meio da transformação de função: o ato de mentir, que Raquel rotula como errado, para Fátima adquire função reforçadora quando associado a prestígio, ascensão e poder.
E o que agrava essa trajetória é a forma como a moralidade inflexível da mãe restringe a aprendizagem contextualizada da filha. Vasconcelos (2020) nos lembra que para que regras governem o comportamento de forma eficaz e ética, elas precisam fazer sentido funcional dentro do ambiente do sujeito. Quando as únicas regras disponíveis são do tipo “ou é honesta como eu, ou é desonesta”, o mundo se divide em extremos. E, como o ambiente reforça a esperteza, Maria de Fátima faz sua escolha: adaptar-se ou perecer.
O conflito entre regras e cultura
Este dilema não é exclusivo das Accioli. Hayes et al. (1998) argumentam que o comportamento moral envolve uma tensão constante entre regras aprendidas e contingências vividas. Quando uma cultura oferece reforçadores consistentes para comportamentos considerados “errados” por certas regras, surgem conflitos morais difíceis de resolver — especialmente para jovens adultos em fase de afirmação de identidade e valores.
O Brasil, como sugerem os estudos reunidos por Carvalho (2016), é um ambiente fértil para esse conflito. Existe uma dissonância entre os valores morais ensinados formalmente (honestidade, justiça, respeito) e aqueles reforçados pela experiência cotidiana (impunidade, corrupção funcional, vantagem individual). É nesse cenário que personagens como Fátima florescem — não como vilãs arquetípicas, mas como sujeitos que reagem, relacionalmente, àquilo que o contexto oferece.
Quando a virtude vira rigidez — e a rigidez vira afastamento
É possível, então, que a moralidade de Raquel — ainda que inspiradora — funcione, no universo relacional de Fátima, como um estímulo aversivo. A filha não encontra espaço para dialogar sobre dilemas, não pode contar nuances, não pode errar. Em vez de aprender flexibilidade ética contextualizada, ela aprende que não há retorno possível: ou veste o manto da santa ou se entrega à esperteza total.
Essa leitura ecoa os alertas de Zilio & Carrara (2009): quando valores são apresentados como absolutos, descolados da função prática e do contexto histórico-social, eles perdem capacidade de guiar o comportamento de forma adaptativa. A moral, nesse caso, vira uma prisão — e o sujeito, um desertor.
Conclusão
A história de Raquel e Maria de Fátima é uma metáfora potente da tensão entre moralidade normativa e adaptação cultural. Ao lermos esse embate sob a ótica do responder relacional, vemos que o que está em jogo não é apenas honestidade ou desonestidade, mas a capacidade de construir repertórios éticos que dialoguem com a complexidade do mundo.
Fátima não nasceu má. Ela responde ao que o meio valoriza. E quando sua única referência moral — a mãe — não lhe permite espaço para ambiguidade, para erro, para dúvida, ela faz o que qualquer organismo faria: busca o caminho que oferece reforço. Mesmo que esse caminho seja torto.
Referências:
ABIB, José Antônio Damásio. Teoria moral de Skinner e desenvolvimento humano. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 14, n. 1, p. 107–117, 2001.
CARVALHO, Lígia Mosolino de. Desenvolvimento moral na Análise do Comportamento: uma revisão bibliográfica. Dissertação (Mestrado em Psicologia), Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2016.
GOMIDE, Paula Inez Cunha (org.). Comportamento moral: uma proposta para o desenvolvimento das virtudes. Curitiba: Juruá, 2010.
HAYES, Steven C.; HAYES, Linda J.; SHOENFELD, David R. Moral behavior and the development of verbal regulation. The Behavior Analyst, v. 21, n. 2, p. 253–276, 1998.
SKINNER, B. F. Ciência e Comportamento Humano. Tradução de João Carlos Todorov e Rodolpho Azzi. 7º Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
VASCONCELOS, Ísis Gomes. Comportamento moral e responder relacional. Tese (Doutorado em Psicologia), Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 2020.
ZILIO, Diego; CARRARA, Kester. B. F. Skinner: teórico da ciência e teórico da moral? Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 61, n. 2, p. 1–17, 2009.