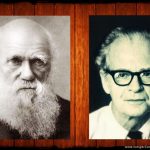Afinal, a psicoterapia serve para todos?
Uma das críticas mais comuns aos terapeutas de qualquer abordagem é a de que a terapia só serve para pessoas bem de vida e que não têm problemas “sérios”. Não é difícil encontrar pessoas que desacreditam da serventia da psicoterapia para grupos marginalizados pela sociedade. Considero que esta seja uma crítica que pode ser refutada, porém não de uma maneira tão fácil quanto pode parecer em uma primeira vista.
De onde surge esse estigma?
Você pode pensar que a crítica vem do alto custo financeiro de um processo terapêutico, em parte isto está certo (ver tabela do CFP: http://site.cfp.org.br/servicos/tabela-de-honorarios/; e comparar com o salário mínimo de R$724), mas isto é apenas o início do problema. Caso a questão estivesse, de fato, relacionada apenas ao valor, uma forma simples de resolver tal questão seria os psicólogos (CFP) baixarem os valores das sessões. Mas será que desta forma o processo psicoterapêutico atenderia as demandas específicas de todos?
A terapia comportamental, diferentemente da maioria das terapias, teve o seu surgimento fora do setting clínico tradicional, i.e., o gabinete. Ela surge em instituições (e.g., hospitais) e só depois adota o modelo de gabinete (terapia face a face) (Guedes, 1993). A sua evolução é historicamente dividida em 3 momentos, as ditas três ondas ou gerações. Apesar da origem fora do gabinete, pode-se ver um comprometimento da primeira onda da terapia comportamental com a modificação do comportamento do paciente institucionalizado (na sua maioria, em hospitais e presídios). Logo, pode pensar que está geração visava mais adequar o desviante ao status quo, do que questioná-lo.
A passagem da primeira para a segunda onda é, a cima de tudo, um processo político. Apesar da tecnologia efetiva (e.g., economia de fichas) que a primeira onda produziu aquilo não era considerado terapia. Terapia tinha que ser no gabinete e atender o indivíduo “verbalmente competente” (com todas as aspas!). Dai a pressão para adotarmos um modelo bastante diferente da proposta inicial do behaviorismo (Guedes, 1993).
Aí chegamos à terceira onda de terapias comportamentais, possivelmente um terreno familiar à boa parte dos leitores. Aqui temos a FAP, a ACT e outras terapias importantes, mas não tão difundidas no nosso meio quanto essas duas, como: a terapia comportamental dialética; a ativação comportamental; as terapias feministas; a psicoterapia positiva; a terapia baseada no behaviorismo psicológico do Staats, entre outras. Para a discussão se a terapia analítico-comportamental feita no Brasil pode compor a terceira onda, vale a leitura do artigo de Vandenberghe (2011).
Cada vez mais a terapia analítico-comportamental foi entrando no consultório. E durante esse processo podemos ter nos afastado, ou no mínimo, ter dificultado o acesso dos mais diversos grupos da sociedade ao processo psicoterápico.
Veja bem, não é uma questão da terapia analítico-comportamental ter ou não ferramentas para atender a população. A proposta do behaviorismo radical nunca foi de segmentar o estudo do comportamento a uma determinada classe social, sempre nos preocupamos com os comportamentos dos organismos humanos e não-humanos de maneira geral (Skinner, 1953). O velho Holland (1973/1977) – sempre ele – foi um ferrenho defensor de que o produto da análise do comportamento deveria visar a maioria, e não apenas a classe dominante. Logo, a terapia tem as ferramentas para isso. Mas então de onde vem essa crítica?
Aqui cabe um pouco de especulação. Guedes (1993) defende que a adoção do modelo de gabinete foi um grande erro, que passou a ser problemático quando a terapia se torna uma ferramenta de manutenção das práticas que visam o beneficio de uma pequena classe dominante. Neste contexto a terapia passa a ser uma prática de controle social e adequação de grupos desviantes aos seus papéis pré-determinados.
Afinal, a psicoterapia serve para todos?
Existe um produto a curto prazo que é atingido (em teoria) por todos que procuram psicoterapia, que é a possibilidade de se comportar diante de uma audiência não punitiva, i. e., o terapeuta. Esta audiência é um produto importante, não precisamos desmerecê-lo. Entretanto, talvez não seja o suficiente.
Dificilmente conseguimos pensar em um indivíduo que não entre em choque com as contingências impostas pela vida em sociedade. Existe, é claro, incompatibilidades diferentes nos mais diversos grupos. Por exemplo, um aluno que não se adequa as normas de avaliação; ou a luta para a adoção do nome social; ou até mesmo a distribuição de renda desigual no nosso país. Todos esses são exemplos de contingências que afetam diferentemente os mais diversos grupos que constituem a nossa sociedade. Não vejo problema em dizer que algumas incompatibilidades são mais severas que outras. Com o que a terapia pode contribuir para um indivíduo que vive em uma situação problemática (e.g., minorias marginalizadas, situação de pobreza) e que não vai mudar tão cedo?
Acredito que a única forma (e sei que estou sendo dramático com “única”) é transformar o indivíduo em um agente de mudança. Esse tipo de posicionamento é muito difundido dentro das terapias feministas – um tipo de terapia criada dentro de um contexto de contracontrole e de luta social (Terry, C., Bolling, M. Y., Ruiz, M. R., Brown, K., 2010) – e da psicoterapia positiva do Seligman.
A terapia só pode servir para todos se ela validar a luta de um indivíduo, independentemente, do quão difícil ela pareça ser. Isso não tem nada a ver com levantar bandeiras ou panfletar. É, relativamente, simples. Significa buscar junto do seu cliente (e não para o cliente), entender o contexto em que ele está inserido; questionar este contexto; identificar o que se pode fazer; identificar as consequências que ele está disposto a arcar; e lutar… a mudança não costumar vir fácil.
Conclusão
Sei que escrever sobre este assunto é muito mais fácil do que atuar na prática de um terapeuta cuja terapia sirva para despertar a autonomia do ser humano. Mas já existem pessoas tentando isso em seus consultórios ou em algumas comunidades. Terapeutas e outros tipos de facilitadores têm, ainda que de maneira não sistemática, tentado levar esse posicionamento crítico para as suas intervenções (Guerin, 1957/2005).
Talvez, para a terapia poder servir a todos, ela tenha que se tornar uma prática que gere atrito. O indivíduo deve questionar o seu papel dentro do seu contexto, e não apenas entender esse contexto. Uma sociedade que não pode ser questionada cria apenas locus em que o indivíduo deve se encaixar. Já uma sociedade que pode ser criticada e reformulada gera miríades de possibilidades para o indivíduo procurar o seu lugar.
Este posicionamento provavelmente pode levar o indivíduo a entrar em contato com contingências sociais aversivas, por isso a importância de um processo terapêutico responsável e comprometido com o cliente, e que o leve até onde ele decidir ir: sem imposições.
Por fim, volto à pergunta do início do texto: Afinal, a psicoterapia serve para todos? Não posso falar por todos, mas para mim a resposta é clara: Sim. A psicoterapia não só serve como deve servir para todos. Ela é uma prática que gera autoconhecimento e leva o indivíduo a se questionar sobre o seu papel no mundo. Se por algum motivo a terapia não está fazendo isso com algum grupo de pessoas, não é por que ela é ineficiente – afinal, todos podem conhecer e questionar – e sim, por que existe um interesse para que esses grupos fiquem calados dentre do nicho social que lhes foi determinado. A terapia só não serve para todos, quando ela está servindo para uma minoria opressora.
Referências
Guedes, M. L. (1993). Equívocos da terapia comportamental. Temas em psicologia, n.2, p.81-85.
Guerin, B. (1957/2005). Handbook of interventions for changing people and communities. Nevada: Context press.
Holland, J. G. (1973/1977). Servirán los principios conductales para lós revolucionários? Em: Keller, F. S. & Ribes-Iñesta, E. Modificación de conducta: aplicaciones a la educación. México: Ed. Trillas. PP.265-281.
Skinner, B. F. (1953/1981). Ciência e comportamento humano. São Paulo: Martins Fontes.
Terry, C., Bolling, M. Y., Ruiz, M. R., Brown, K. (2010). FAP and feminist therapies: confronting power and privilege in therapy. Em Kanter, J. W. et al (Orgs). The practice of functional analytic psychotherapy. (pp. 97-122). Seatle: Springer.
Vandenberghe, L. (2011). Terceira onda e terapia analítico-comportamental: Um casamento acertado ou companheiros de cama estranhos?. Boletim contexto, n.34, p. 33-41.