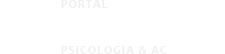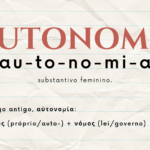Escrito por Aline Cristina da Silva e Julia Moreira
Considerando o fato de que o sofrimento é contextual e que precisa levar-se em conta as variáveis de gênero e variáveis culturais quando falamos do sofrimento de mulheres, neste texto iremos abordar o seguinte fenômeno: questões de gênero na divisão do trabalho e a naturalização do cuidado como responsabilidade feminina — estruturas específicas de sofrimento que precisam ser reconhecidas para uma atuação clínica efetiva (Pinho e Araújo, 2012; Hirata, 2016).
A chamada economia do cuidado — que inclui atividades essenciais como cuidar de crianças, idosos, pessoas enfermas e a manutenção da vida cotidiana — é historicamente atribuída às mulheres, organizando desigualdades que atravessam suas trajetórias subjetivas e profissionais (Hirata, 2016). Neste contexto, emerge o conceito de feminização do cuidado, que se refere à concentração desse trabalho nos corpos femininos, tanto na esfera privada quanto na pública (Nicolodi, 2021). Esse fenômeno, além de estruturar a desigualdade de gênero, impõe uma sobrecarga invisível que impacta diretamente a saúde mental das mulheres.
O ato de cuidar, em muitas culturas, é naturalizado como um dever feminino, com as mulheres sendo educadas desde a infância para priorizar as necessidades dos outros em detrimento de seus próprios desejos (Souza, Oliveira e Batista, 2018). Essa educação perpetua um modelo de feminilidade no qual o cuidado é visto não apenas como um valor, mas como uma obrigação moral que se reflete nas expectativas sociais rígidas e na forma como as mulheres são tratadas dentro do núcleo familiar e social. As consequências dessa imposição aparecem de forma clara no campo clínico, com queixas frequentes de ansiedade, irritabilidade, sensação de insuficiência e perda de identidade (Pinho e Araújo, 2012).
O estudo Índice de Bem-Estar do Cuidador não Profissional de 2020, realizado pelo Embracing Carers, programa global com apoio da Merck, analisou 12 países, incluindo o Brasil, e entrevistou mais de 9.000 cuidadores não profissionais de pessoas com doenças de longa duração, alguma deficiência física ou condição cognitiva. A pesquisa revelou que a maioria desses cuidadores são mulheres (63%) e que cuidam majoritariamente de seus familiares diretos (67%). As brasileiras, em especial, relataram maior impacto na saúde mental e expressaram maior desejo por mais apoio emocional e social – 72% delas desejam mais recursos e serviços de saúde, frente a 63% dos homens. O levantamento evidencia como o cuidado recai desproporcionalmente sobre as mulheres, muitas vezes sem reconhecimento ou suporte adequado.
É muito comum que o ato de cuidar seja atribuído para alguém do núcleo familiar, e essa pessoa se torna então um cuidador informal. Em grande parte das famílias, são as mulheres as designadas para ocupar esse papel de cuidadora, assumindo grandes responsabilidades além das que geralmente já possuem em sua vida profissional e pessoal. Apesar do comportamento de cuidar possuir um aspecto prazeroso, como um sentimento de realização por estar ajudando outra pessoa, também consequentemente existem os aspectos aversivos, que vêm principalmente da sobrecarga que afeta a qualidade de vida das cuidadoras (Araújo et al, 2019).
Essa normalização de atribuir às mulheres o papel do cuidado é mais uma das diversas imposições de gênero. Tais regras sociais moldam os repertórios comportamentais das mulheres, ditando que elas devem se dedicar quase que exclusivamente ao cuidado, o que pode gerar um sofrimento significativo. Em alguns casos, contribui para que a vida da mulher “gire em torno” do outro, deixando a si mesma, sua identidade, suas vontades e seus objetivos em segundo plano. Muitas mulheres, quando emitem comportamentos de contracontrole, se distanciando dessas regras sociais e agindo na direção de outros valores e objetivos que não estão relacionados ao cuidar, sentem culpa; também sentem culpa quando estabelecem algum limite ou estão menos disponíveis para cuidar de outros, como filhos ou parentes.
Conforme apontam Nicolodi e Zanello (2023), foi a partir do conceito de maternagem que as mulheres “passaram a ser vistas, assim, como ‘naturalmente’ cuidadoras, desde sucessivas consequências reforçadoras sociais. Mais uma vez, a partir de uma organização do entrelaçamento de contingências patriarcais e reforçamentos diferenciados, foi selecionado o repertório para as mulheres em que o valor reforçador do ‘cuidar’ para elas funciona como porta de entrada para acessar certos reforçadores sociais que elas não teriam na mesma medida em que se recusam ao ato de cuidar (o que não ocorre, simetricamente, desse modo, com homens no ato de cuidar)” (p. 289).
No Brasil, segundo o IBGE (2021), mulheres dedicam, em média, 21,4 horas semanais a atividades de cuidado não remunerado, quase o dobro do tempo dedicado por homens. A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2018) reforça que, mundialmente, mulheres realizam mais de três vezes o volume de cuidados não remunerados em relação aos homens. Esse desequilíbrio estrutural coloca as mulheres em uma posição de sobrecarga emocional, onde sentimentos de culpa, exaustão e frustração são frequentemente experienciados como resultados inevitáveis dessa carga.
Consideramos que a ACT pode ser muito eficaz no atendimento de mulheres inseridas nesse contexto, pois em vez de tratar a ansiedade, culpa ou exaustão como patologias isoladas, a ACT propõe compreender esses sentimentos como respostas legítimas a contextos de opressão e regras internalizadas (Harris, 2009; Hayes et al., 2012). A clínica baseada na ACT não visa eliminar o sofrimento, mas promover a aceitação de emoções difíceis e a desfusão de narrativas sociais, especialmente aquelas ligadas à obrigação inquestionada de cuidar.
O trabalho terapêutico com a ACT envolve auxiliar a mulher a desfazer a fusão com crenças internalizadas, como auto-regras de que “preciso dar conta de tudo para ser amada”, frequentemente derivada de normas patriarcais. Esse processo de desfusão é fundamental para que ela possa começar a perceber essas crenças como pensamentos e não como verdades absolutas. Além disso, a terapia propõe promover a aceitação da frustração e da culpa, compreendendo-as como emoções naturais no processo de mudança e não como falhas pessoais. Compreender que essas emoções são parte do processo de flexibilidade psicológica permite que a mulher lide com elas de maneira mais construtiva, sem se identificar com elas de forma rígida.
Nesse contexto, é essencial que a mulher seja capaz de diferenciar seus valores pessoais de regras e expectativas externas. Uma intervenção eficaz pode envolver questionamentos que ajudem a refletir sobre a origem de suas escolhas: “Você cuida porque isso é importante para você ou porque aprendeu que é o que se espera de uma mulher decente?”. Este processo de reflexão permite a ela distinguir entre ações que surgem de valores genuínos e aquelas que são imposições normativas, abrindo caminho para escolhas mais livres e autênticas. Ao entrar em contato com seus valores pessoais — como prazer, descanso e autenticidade — e utilizá-los como norte para seus comportamentos, a mulher é capaz de construir um caminho de vida mais alinhado ao que ela verdadeiramente deseja e com maior coerência entre o que sente e o que faz.
O uso de metáforas — como carregar mochilas que não são suas ou habitar casas construídas por regras alheias — ajuda na aproximação e compreensão desses conceitos. Pequenos experimentos, como reservar dez minutos diários para não cuidar de nada nem de ninguém e observar os sentimentos emergentes, funcionam como micropassos de contato com a autonomia e com o sofrimento evitado. Assim, sustentar a presença com gentileza diante da dor torna-se parte da intervenção clínica: reorganizar práticas de cuidado sem reproduzir apagamentos.
Cuidar pode ser uma expressão genuína de valores pessoais, mas também pode se transformar em uma prisão imposta socialmente. Na prática clínica, é fundamental lembrar às mulheres que elas também são dignas de cuidado — e que esse cuidado deve começar com elas mesmas. O espaço terapêutico oferece um ambiente para reorganizar as práticas de cuidado, pautado na busca por sentido, no respeito pelas escolhas e na afirmação da dignidade. Reconhecer limites, acolher emoções difíceis e reconectar-se com valores e desejos pessoais são passos essenciais para que o ato de cuidar deixe de ser uma imposição e se torne uma expressão autêntica de vida.
Referências
Araújo, M. G. D. O., Dutra, M. O. M., Freitas, C. C. S. L., Guedes, T. G., Souza, F. S. D., & Baptista, R. S. (2019). Cuidando de quem cuida: qualidade de vida e sobrecarga de mulheres cuidadoras. Revista Brasileira de Enfermagem, 72, 728-736.
Embracing Carers, 2020. The Global Carer Well-being Index – Who Cares for Carers? Perspectives on COVID-19 Pressures and Lack of Support.
Harris, R. (2009). A Terapia de Aceitação e Compromisso. Porto Alegre: Artmed.
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change (2ª ed.). Nova York: Guilford Press.
Hirata, H. (2016). Trabalho, gênero e cidadania: entre a dominação e a emancipação. São Paulo: UNESP.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2021). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD): outras formas de trabalho.
Movimento Mulher 360. (2021, setembro 8). Mulheres lideram casos de burnout. https://movimentomulher360.com.br/noticias/mulheres-lideram-os-casos-de-burnout-revela-pesquisa/. Acesso em 28 abr. 2025.
Nicolodi, L.G., Hunziker, M. H. L.(2021). O patriarcado sob a ótica analítico-comportamental: considerações iniciais. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. 17(2) DOI:10.18542/rebac.v17i2.11012
Nicolodi, L., Zanello, V. (2023). Poder, patriarcado e dispositivos de gênero no manejo clínico analítico-comportamental. Em Oshiro, C.K.B. & Vartanian, J.F. (Orgs.), Habilidades terapêuticas na prática da psicoterapia (p.281-293). São Paulo, Editora Manole.
Pinho, P. S., & Araújo, T. M. (2012). Associação entre sobrecarga doméstica e transtornos mentais comuns em mulheres. Revista Brasileira de Epidemiologia, 15(3), 560-572.
Souza, L. M., Oliveira, J. M., & Batista, M. R. (2018). Gênero e cuidado de idosos: um estudo analítico. Psicologia: Teoria e Prática.
Imagem: Ilustração de Sally Deng