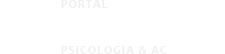Texto escrito por Carolina da Silva e Camila Lourenço
Com certeza, você já ouviu que alguém é uma “mãe narcisista”. Talvez até tenha questionado a ausência de um diagnóstico para alguma figura materna próxima. Mas, para além da patologização fácil e apressada, o que realmente está por trás da popularização em massa desse termo? Por que tantas “mães narcisistas” começaram a surgir ou a ser nomeadas nos últimos anos? Por que o termo “pais narcisistas” não é propagado na mesma frequência?
A resposta não é simples, mas envolve um entrelaçamento de fatores culturais, afetivos e clínicos. Para começar a entender essa complexa rede, é necessário dar um passo atrás e conceituar o Transtorno de Personalidade Narcisista (TPN) segundo o DSM-5 [10]:
“é caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade (na imaginação ou no comportamento), necessidade de admiração e falta de empatia, que começa no início da vida adulta e está presente em diversos contextos.”
O DSM-5 ainda lista comportamentos que se enquadram como critérios diagnósticos para o TPN. São:
- Uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos (grandiosidade)
- Preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito
- Convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre
- Necessidade de ser incondicionalmente admirado
- Uma sensação de merecimento
- Exploração dos outros para alcançar objetivos próprios
- Falta de empatia
- Inveja dos outros e convicção de que outros os invejam
- Arrogância e altivez
Embora o DSM-5 organize o TPN como um conjunto de padrões fixos e duradouros, algumas abordagens, como a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), propõem um olhar diferente: o de tratar comportamentos como comportamentos, e não como provas automáticas de uma estrutura patológica. Em vez de rotular traços como sintomas, a ACT nos convida a entender os comportamentos em seus contextos, o que abre espaço para interpretações mais flexíveis e menos estigmatizantes [3].
Com a crescente de conteúdos sobre saúde mental nas redes sociais, o termo “mãe narcisista” explodiu. No entanto, na prática popular, a associação entre o termo e o diagnóstico formal nem sempre acontece. Na maioria das vezes, o uso se aproxima muito mais do conceito psicanalítico, tal como formulado por autores como Sigmund Freud, Heinz Kohut e Otto Kernberg [9], que descrevem a “mãe narcisista” como: idealizadoras do filho como extensão do próprio ego, o utilizam para satisfazer necessidades narcisistas, falham em validar o self da criança. Frias, instáveis, ambivalentes; promovem idealização/desvalorização.
E aqui está a primeira grande provocação e distinção epistemológica que precisa ser feita: nem toda “mãe narcisista” configura um quadro clínico de TPN. E nem toda mulher diagnosticada com TPN manifesta-se como uma “mãe narcisista”, nos moldes compreendidos pela psicanálise.
Enquanto o DSM-5 se baseia em critérios observáveis e categóricos, a psicanálise trabalha com estruturas subjetivas e relações de objeto [10]. No fundo, estamos falando de dois modos distintos de compreender o sofrimento psíquico, que nem sempre dialogam entre si, mas que frequentemente são confundidos no discurso público.
Além das diferenças conceituais, há outros fatores que ajudam a explicar o uso em massa da narrativa da “mãe narcisista”. Para além do recorte epistemológico, a percepção histórico-social tem um importante papel quando olhamos para a fácil e exponencial disseminação do termo.
Primeiro, a sociedade idealiza a maternidade como um estado de abnegação e cuidado incondicional, criando uma expectativa rígida que não tolera desvios. Essa idealização também se conecta a uma construção social de gênero, na qual mulheres são mais rígidamente responsabilizadas pelo bem-estar emocional da família [1]. Assim, comportamentos que desviam desse ideal tendem a ser patologizados de forma desproporcional em relação aos homens, antecipando o viés misógino que veremos mais adiante.
As representações sociais da maternidade enfatizam a entrega total da mãe [3], e qualquer comportamento que fuja desse padrão, como autoconfiança ou priorização pessoal, pode ser rapidamente rotulado como narcisista. Essa percepção é amplificada pela falta de distinção entre traços comuns e o TPN conforme o DSM-5, levando a uma generalização imprecisa.
A aplicação popular do narcisismo tende a reduzi-lo a um defeito moral, mesmo sendo um constructo complexo. O uso amplo do termo em contextos interpessoais reflete mais uma busca por explicações simplistas do que uma análise clínica rigorosa, o que contribui para sua banalização ao descrever as características dessas mulheres.
Paradoxalmente, a rotulação sem rigor clínico também opera como uma forma de evitar responsabilizações reais. Ao nomear uma mãe como “narcisista” no sentido clínico, parte da sociedade, e até os próprios familiares, podem se sentir isentos de elaborar os efeitos concretos dos comportamentos dela. É como se o rótulo explicasse tudo, congelando a possibilidade de responsabilização – não culpabilização – ética e relacional. A ACT, inclusive, alerta sobre esse risco: quando nos fundimos com categorias diagnósticas, podemos usar essas categorias para justificar ou enrijecer padrões, ao invés de compreendê-los e agir com consciência diante deles [10].
A influência misógina no uso do termo “mães narcisistas” é igualmente significativa. Por vezes o papel materno é uma construção social que responsabiliza as mulheres pelo bem-estar da família, e qualquer falha nesse papel é julgada com mais rigor do que em comparação com a paternidade [6]. Isso cria um viés de gênero: enquanto o Transtorno de Personalidade Narcisista é mais prevalente em homens [4] o foco nas mães reflete uma tendência misógina de culpar mulheres por dinâmicas familiares problemáticas.
Esse julgamento também funciona como uma forma de controle sobre o comportamento feminino ao reforçar expectativas rígidas sobre a maternidade [7]. Ao transformar comportamentos maternos diversos em distúrbios ou desvios, a sociedade julga e regula as formas “aceitáveis” de ser mãe, deslegitimando experiências maternas fora do ideal de aceitação, gentileza e sacrifício [1]. Com isso, as nuances da relação mãe-filho são silenciadas, individualiza conflitos familiares e reforça a ideia de que mulheres devem corresponder a um modelo único e normativo de cuidado [8].
Ainda assim, o rótulo “narcisista” é, muitas vezes, aplicado de forma simplista, como se os efeitos do contexto pudessem ser reduzidos a falhas morais ou traços de personalidade. Sob a perspectiva da ACT [3] essa tendência pode ser compreendida como um processo de fusão cognitiva: quando pensamentos e rótulos como ‘narcisista’, são tomados como verdades absolutas. Isso reduz a complexidade da experiência vivida e dificulta uma abordagem mais flexível e compassiva das relações familiares. Além disso, recorrer a explicações simplistas pode funcionar como uma forma de evitação experiencial. Ao invés de entrar em contato com a dor genuína, a ambivalência e a vulnerabilidade presentes nas relações maternas, o indivíduo busca se proteger emocionalmente ao escolher justificativas pautadas no rótulo.
Assistimos, então, a uma combinação perigosa. A idealização da maternidade, a psicologização banalizada do sofrimento e o reforçamento de papéis de gênero, que constroem um cenário onde a misoginia opera silenciosamente: culpabilizando mulheres de forma desproporcional, enquanto apaga as estruturas que sustentam essas dinâmicas [1].
Por fim, a narrativa das “mães narcisistas” frequentemente ignora os contextos que moldam comportamentos, apagando experiências traumáticas, a ausência de uma rede de apoio, a sobrecarga da dupla (ou tripla) jornada de trabalho, entre outros atravessamentos. A saúde mental das mulheres é profundamente impactada por pressões e expectativas sociais historicamente construídas [6]. Desse modo, o contexto clínico não pode ser mais um ambiente opressor, pelo contrário.
A literatura científica aponta que o diagnóstico de Transtorno de Personalidade Narcisista (TPN) é raro, afetando menos de 2% da população mundial [5]. Diante disso, torna-se evidente que o fenômeno das “mães narcisistas” é muito mais sociocultural do que clínico e, por isso, precisa ser analisado com cautela. A banalização do termo exige uma postura crítica, capaz de evitar generalizações apressadas e distorcidas que silenciam a complexidade subjetiva de cada história.
O atendimento psicológico deve considerar essas camadas de complexidade, acolhendo o sofrimento sem reproduzir narrativas simplistas ou culpabilizantes. A escuta clínica precisa estar atenta às desigualdades de gênero, às violências simbólicas e estruturais, bem como aos efeitos da sobrecarga emocional e da carga mental que, historicamente, recaem sobre as mulheres. Portanto, é essencial que o terapeuta reconheça e integre as variáveis culturais, sociais e de gênero em sua prática clínica, ampliando a compreensão do fenômeno e promovendo um cuidado mais ético e eficaz.
É importante destacar: isso não significa negar a existência de mães com comportamentos significativamente marcados por traços narcisistas. Muito menos minimizar a violência vivida por esses filhos. No entanto, o ponto central é que a frequência com que esse termo tem sido usado na cultura popular está muito além da sua prevalência real enquanto diagnóstico clínico. Há uma diferença importante entre reconhecer comportamentos alvo de redução e patologizar indiscriminadamente relações familiares complexas.
Referências:
- Beauvoir, S. de. (2009). O segundo sexo (Sérgio Milliet, Trad., edição revisada). Nova Fronteira. (Obra original publicada em 1949)
- Fonseca, A., & Canavarro, M. C. (2017). Depressão pós-parto. In PROPSICO: Programa de atualização em Psicologia Clínica e da Saúde – Ciclo 1. Artmed Panamericana. https://hdl.handle.net/10316/45085
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. Guilford Press.
- Barroso, F. R. M., Silva, M. de L., Feitosa, A. do N. A., & Oliveira, M. P. A. de. (2022). Transtorno de personalidade narcisista: Uma revisão integrativa da literatura. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 9(1), 1069–1083. https://doi.org/10.35621/23587490.v9.n1.p1069-1083
- Morgan, T. A., & Zimmerman, M. (2018). Epidemiology of personality disorders. In W. J. Livesley & R. Larstone (Eds.), Handbook of personality disorders: Theory, research, and treatment (2nd ed., pp. 173–196). The Guilford Press.
- PENTEADO, P. A. Construção Social Da Maternidade. Revista Brasileira de Terapia Familiar, v. 4, n. 1, p. 23-34, 21 jul. 2012. https://revbrasterapiafamiliar.emnuvens.com.br/revista/article/view/66/64
- Duarte, L. F. D. (2006). Naturalização e medicalização do corpo feminino: O controle social por meio da reprodução. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, 10(20), 113–126. https://doi.org/10.1590/S1414-32832006000200007
- Fonseca Iagnecz, R. de S., & Wedig, J. C. (2021). Ser mulher – mãe – trabalhadora: Interseccionalidade na vivência da maternidade. Anais do Seminário Internacional Fazendo Gênero 12 (Anais Eletrônicos), Florianópolis. https://www.en.fg2021.eventos.dype.com.br/resources/anais/8/fg2020/1630087582_ARQUIVO_ec27a51bf93f70c57df487c05bc31170.pdf
- Padovan, C., Rocha, C. H., & Schunemann, L. C. (2017). As origens médico-psiquiátricas do conceito psicanalítico de narcisismo. Ágora (Rio de Janeiro), 20(3), 304–312. https://doi.org/10.1590/1809-44142017003004
- American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (5ª ed.; C. H. Mari, Trad.). Artmed.