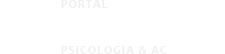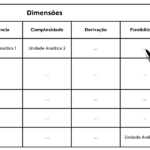Uma posição fundamental da análise do comportamento é a rejeição à ideia de que somos seres autônomos, agindo no mundo livremente a despeito das condicionalidades contextuais e históricas da realidade. Skinner (1971) dedicou esforços à crítica dessa “teoria do homem autônomo”, voltada a explicar o comportamento humano como algo que irrompe de aspectos internos de cada indivíduo, orientando decisões espontâneas sobre suas ações. As causas do comportamento, nessa perspectiva, deveriam ser buscadas por meio de formulações mentalistas, rejeitando ou negligenciando o papel desempenhado pelo ambiente. As ações de cada pessoa deveriam ser julgadas, punidas ou celebradas como uma realização livre de sua própria agência pessoal.
Uma interpretação científica do comportamento, por sua vez, explicitaria a influência do ambiente sobre o comportamento, levando a uma compreensão das ações humanas a partir de suas determinações contextuais e históricas. No entanto, não podemos nos permitir o equívoco de atribuir toda reivindicação de autonomia como um erro mentalista. São diversas as situações nas quais noções de autonomia são mobilizadas em nossa sociedade para tratar de questões fundamentalmente contextuais em suas causas e implicações, especialmente quando esse discurso está relacionado às demandas de pessoas que se veem tolhidas de autonomia em suas vidas, e que identificam, por isso mesmo, a necessidade de mudanças contextuais.
Uma pessoa que se vê em uma situação doméstica abusiva pode identificar corretamente a autonomia financeira como uma condição necessária para garantir a sua segurança. Uma adolescente em uma família excessivamente zelosa pode demandar maior autonomia em seu cotidiano como forma concreta de promover condições mais adequadas ao seu amadurecimento. Mulheres que identificam de modo preciso o controle sobre seus corpos exercido por uma cultura patriarcal reivindicam uma condição de maior autonomia reprodutiva. Uma população privada de pensar e formular sua realidade em seus próprios termos busca autonomia intelectual ao reconhecer as consequências negativas de imposições externas. Um povo submetido a interferências de uma potência estrangeira enfrenta a necessidade de lutar por autonomia política. Uma terapeuta que acompanhou o longo processo de seu cliente no enfrentamento de dificuldades emocionais preocupa-se em garantir que ele desenvolva uma maior autonomia para lidar com desafios futuros sem depender continuamente de sua ajuda. Nenhum desses exemplos envolve equívocos mentalistas que neguem a influência do contexto sobre o comportamento. Analistas do comportamento que, por se oporem à noção de autonomia, insistissem em rejeitar a importância dessas reivindicações é que estariam negligenciando a complexidade das relações comportamentais em contextos sociais.
A noção de autonomia, desse modo, não parece ser inerentemente vinculada às explicações internalistas e mentalistas rejeitadas pela ciência do comportamento. Como então compreender de forma coerente a questão da autonomia em sua legitimidade social sem incorrer na negligência ao papel do contexto sobre o nosso comportamento? Curiosamente, analistas do comportamento podem encontrar uma alternativa interessante nas formulações de Paulo Freire (Flores Júnior, Barbosa & Laurenti, 2021; Freire, 1996/2017).
As formulações ético-políticas de Freire envolvem a consideração da autonomia como um valor fundamental. Sua definição está vinculada a uma concepção da pessoa humana como um ser condicionado pelas circunstâncias materiais de sua vida e de sua história, mas que não seria determinado por elas. Não seríamos seres determinados no sentido de que nosso futuro não está pré-fixado de maneira inescapável, uma vez que somos capazes de agir sobre as próprias condicionalidades que agem sobre nós, estabelecendo uma relação recíproca e ativa com o mundo. Essa condição nos atribui a capacidade e, consequentemente, a responsabilidade de nos inserirmos no mundo de maneira responsável.
A autonomia, portanto, estaria vinculada ao exercício da liberdade, não no sentido de agir a despeito dos contextos que condicionam nosso comportamento, mas de agir a favor da mudança desses contextos, conscientes de que nosso próprio comportamento será modificado nesse processo. Essa intervenção ativa sobre nossos contextos de vida nem sempre é possível; diferentes condições circunstanciais e relações sociais estabelecem limites a quanto poder de intervenção temos sobre nossos próprios contextos de vida e, portanto, sobre o quanto podemos exercer nossa autonomia.
É importante compreendermos essa questão de uma forma um pouco mais complexa, evitando um erro muito comum mesmo entre analistas do comportamento experientes. É comum que, por tratarmos do comportamento como a nossa dimensão de análise fundamental, tentemos traduzir toda e qualquer categoria conceitual a um certo tipo de comportamento. Poderíamos tentar descrever, então, que tipo de comportamento seria a autonomia. Uma tentativa recorrente seria atribuir a autonomia a um agir em conformidade com regras formuladas pela própria pessoa, perdendo de vista que nossa linguagem é ela mesma resultado de nossas relações sociais e moldada por relações de poder. Do mesmo modo, pode ser evocada a noção de escolha: seríamos autônomos ao escolher entre diferentes alternativas de ação de modo livre de coerção. No entanto, essa seria uma definição determinista, atribuindo a noção de autonomia a um agir dentro de um certo sistema de contingências pré-determinado, no qual há liberdade internamente, mas nunca ao ponto de modificarmos como, por que ou por quem essas diferentes opções foram estabelecidas.
Uma formulação um tanto mais coerente poderia identificar a autonomia a categorias como o autocontrole e o contracontrole, respostas que agem sobre as condições que controlam o nosso próprio comportamento. A autonomia seria, então, um evento momentâneo que cessa com o fim de uma resposta? A autonomia apenas existiria quando optamos pela mudança das condições de vida e não em condições nas quais optamos por não agir? Nesse sentido, destaco um desafio para pensarmos a noção de autonomia desde a análise do comportamento: pensemos nela não como um tipo de comportamento, mas como uma condição de possibilidade.
Autonomia é condição de possibilidade de agirmos de modo a mudar as contingências que moldam o nosso próprio comportamento. Ou seja, a autonomia não está nas nossas ações propriamente ditas, nem é aquilo que causa as nossas ações de autocontrole ou contracontrole, ela diz respeito à vigência de condições que tornem possível que a gente exerça essas ações, modificando nossas relações contextuais. Há, nesse sentido, um aprendizado da autonomia: precisamos de um repertório de contracontrole e autocontrole para que tenhamos autonomia. Mas é necessário mais do que isso: a vigência de relações com as outras pessoas e com o mundo que nos permitam operar mudanças de fato. Nessa formulação, a autonomia permanece viável como uma categoria de dimensão comportamental, mas diz respeito a uma relação contextual mais complexa. Em última instância, essa noção de autonomia nos orienta ao valor da promoção de relações sociais e societais mais equânimes, que se realiza apenas na forma da garantia da autonomia de cada um.
A promoção da autonomia, portanto, é uma tarefa que envolve o aprendizado do comportamento, mas também a garantia de condições materiais que favoreçam o poder de ação e autodeterminação das pessoas sobre suas próprias vidas. Não há mentalismo nessa consideração. Nessa formulação, a promoção da autonomia é um valor inevitavelmente político, e nos orienta a compromissos com mudanças em nossa realidade societal, sem negar em nenhum momento a importância do desenvolvimento de repertórios para o exercício da autonomia, seja na educação institucional, na parentalidade ou na clínica. Hoje, em nosso trabalho e em nossas vidas cotidianas, estamos agindo a favor da autonomia de cada um?
Referências:
Uma versão inicial dessa interpretação sobre a noção de autonomia foi apresentada em Flores Júnior e Córdova (2019), e avançamos posteriormente nessa discussão em Flores Júnior, Barbosa e Laurenti (2021). Para saber mais sobre a discussão do determinismo na teoria skinneriana confiram a tese de Carolina Laurenti (2009). Principalmente, não deixem de conferir o livro de Paulo Freire (1996/2017) a respeito da pedagogia da autonomia.
Flores Júnior, C. R., & Córdova, L. F. (2019). Por uma práxis social comunitária em análise do comportamento. Acta Comportamentalia, 27, 527-540. https://doi.org/10.32870/ac.v27i4.72030
Flores Júnior, C. R., Barbosa, D. S., & Laurenti, C. (2021). Autonomia, educação e compromisso social: Convergências ontológicas entre Paulo Freire e o Comportamentalismo Radical. Revista Brasileira de Análise do Comportamento, 17(2), 207-218. http://dx.doi.org/10.18542/rebac.v17i2.11016
Freire, P. (2017). Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa (55a ed.). Paz e Terra. (Original publicado em 1996).
Laurenti, C. (2009). Determinismo, indeterminismo e behaviorismo radical. [Tese de Doutorado, Universidade Federal de São Carlos] Repositório UFSCar. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4760
Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. Alfred A. Knopf.