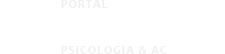“Na vida, não há certo; não há errado. Há o possível. O desenvolvimento pessoal amplia o possível.”
(Hélio José Guilhardi, proponente da Terapia por Contingências de Reforçamento, junho/2009)
O termo “Terapia Comportamental”, inicialmente cunhado para um tratamento específico (Wolpe, 1973), ao longo do tempo passou a definir uma família de práticas psicoterapêuticas que, no limite, são epistemológica e conceitualmente incompatíveis entre si. Por exemplo, o próprio conceito de “comportamento”, que dá nome ao grupo, não possui consenso entre as psicoterapias que o compõe (e.g., Terapia Cognitivo-Comportamental, Terapia de Aceitação e Compromisso etc.). Portanto, ao falar de uma “terapia comportamental”, é necessário especificar quais são seus fundamentos filosóficos e conceituais.
Nessa publicação, apresentaremos brevemente um modelo de terapia comportamental chamado Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR). O desenvolvimento da TCR se inicia com a abertura da primeira clínica de terapia comportamental no Brasil, em 1969, e continua até os dias de hoje (Guilhardi, 2003, 2021). A TCR é uma sistematização da Análise do Comportamento aplicada ao ambiente clínico (Guilhardi, 2004). Por sua vez, a Análise do Comportamento pode ser compreendida como uma ciência natural subdividida em diferentes áreas: a filosofia do Behaviorismo Radical (e.g., Skinner, 1945, 1953, 1957, 1974); as metodologias de pesquisa da Análise Experimental do Comportamento e da Análise Aplicada do Comportamento (e.g., Andery, 2010; Johnston et al., 2019; Sidman, 1960); os conceitos derivados das evidências experimentais das pesquisas (e.g., Catania, 1998/1999; Keller & Schoenfeld, 1950/1974; Millenson, 1967/1975); e os procedimentos de modificação de comportamento tecnologicamente descritos e replicáveis (Baer et al., 1968).
A Análise do Comportamento possui o comportamento como objeto de estudo, esse definido como a interação entre as manifestações do organismo e aspectos do ambiente (Matos, 1995; Skinner, 1953). A relação de dependência entre os eventos ambientais e as manifestações do organismo são chamadas contingências de reforçamento (CR) (De Souza, 1999). O psicoterapeuta TCR se interessa por todas as manifestações dos clientes (comportamentos motores, sentimentos, pensamentos, previsões, alucinações, sonhos etc.) e as entende como resultado das CRs. “Terapia por Contingências de Reforçamento” é um nome descritivo da atuação do profissional, visto que seu objetivo é identificar as CRs controladoras das manifestações clinicamente relevantes e manejar CRs para alterá-las em uma direção psicoterapêutica (Guilhardi, 2004).
Características fundamentais do modelo psicoterapêutico
A TCR compreende que o repertório comportamental do cliente é selecionado pelos três níveis de seleção propostos por Skinner (1981), filogênese, ontogênese e cultura. O repertório pode, em determinado momento, ser inefetivo para produzir reforçadores positivos e/ou eliminar estímulos aversivos no curto e no longo prazo. Os resultados da escassez de reforçadores positivos e/ou o contato com estimulação aversiva são sentidos pelo cliente como sofrimento (Guilhardi, 2004). Na maioria dos casos, o cliente não possui o repertório verbal para descrever a relação de dependência entre o que sente e o ambiente, e atribui suas dores a causas espúrias (Guilhardi, 2002).
O psicoterapeuta TCR inicia o processo psicoterapêutico identificando os déficits e excessos comportamentais (Kanfer & Saslow, 1976) do cliente, tanto referentes às queixas, quanto às dificuldades percebidas pelo profissional, que o impedem de produzir reforçadores positivos e/ou eliminar estímulos aversivos, de curto e longo prazo, para si e para terceiros (Ferster, 1972). Além disso, o psicoterapeuta investiga e levanta hipóteses sobre as CRs em operação que mantêm as dificuldades do cliente.
Após levantar hipóteses sobre diferentes CRs controladoras das manifestações, o psicoterapeuta poderá agrupá-las em classes de respostas, isto é, respostas fenotipicamente (aparentemente) diferentes que são controladas pelas mesmas classes de eventos antecedentes e produzem os mesmos efeitos no ambiente (Catania, 1998/1999). A adição de informações que ocorre a cada sessão altera ou amplia a análise do profissional. Também é importante agrupar as classes de respostas problemáticas em classes de ordem superior (Catania, 1996), facilitando a previsão do comportamento do cliente nos diversos ambientes sociais (e.g., profissional, familiar, conjugal etc.).
O repertório do cliente é resultado do acúmulo de interações com o ambiente desde o nascimento, contudo os comportamentos-problema são controlados por CRs presentes, e a única maneira de alterá-los é intervindo no presente. O profissional realiza um recorte arbitrário da vida do cliente e infere, a partir das evidências coletadas, as CRs que controlam os comportamentos relevantes. Se a partir da análise de CRs as intervenções obtiverem sucesso, suspende-se a avaliação. Se as intervenções obtiverem sucesso parcial ou nulo, o psicoterapeuta terá que reavaliar as suas hipóteses sobre as CRs controladoras ou os procedimentos utilizados. Uma das formas de reavaliação das CRs é a investigação da história de contingências de reforçamento (HCR). Recortes da HCR, arbitrários, como os recortes das CRs atuais, sugerem como os eventos adquiriram as funções de estímulo e como os padrões comportamentais foram instalados e mantidos (Guilhardi, 2010).
É essencial que os procedimentos psicoterapêuticos sejam construídos de maneira individualizada e que o contato do psicoterapeuta com técnicas já utilizadas (e.g., leitura de publicações científicas) sirvam como eventos antecedentes para ampliar o repertório profissional e aumentar o controle de estímulos sobre aspectos relevantes dos casos atendidos, e não para a replicação baseada em critérios fenotípicos (e.g., critérios diagnósticos de manuais de psiquiatria), protocolos de atendimento (como as intervenções ocorridas em determinadas pesquisas clínicas) ou CRs pré-estabelecidas (e.g., partir do pressuposto que, dado determinado diagnóstico, certas CRs estão em operação) (Guilhardi, 1988). Isso colocaria o psicoterapeuta sob controle de regras prévias à análise do caso e o tornaria menos sensível às CRs referentes à pessoa atendida.
Por final, o psicoterapeuta TCR deve programar a generalização dos ganhos do processo psicoterapêutico (Baer et al., 1968) para 1. diferentes classes comportamentais, de forma que os comportamentos desejados do cliente se ampliem para múltiplas áreas; 2. diferentes ambientes (não se restringir a mudanças dentro da sessão de psicoterapia); e, 3; se manterem no tempo. O psicoterapeuta deve ficar satisfeito apenas quando o repertório do cliente apresentar a generalização nessas três áreas.
Para saber mais sobre a TCR, sugerimos a leitura de https://itcrcampinas.com.br/pdf/helio/introducaoatcr.pdf
Referências
Andery, M. A. P. A. (2010). Métodos de pesquisa em análise do comportamento. Psicologia USP, 21(2), 313-342. https://doi.org/10.1590/S0103-65642010000200006
Baer, D. M., Wolf, M. M., & Risley, T. R. (1968). Some current dimensions of applied behavior analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 1(1), 91–97. https://doi.org/10.1901/jaba.1968.1-91
Catania, A. C. (1996). On the origins of behavior structure. In T. R. Zentall, & P. M. Smeets (Eds.), Stimulus class formation in humans and animals (pp. 3-12). New York: Elsevier. https://doi.org/10.1016/s0166-4115(06)80100-7
Catania, A. C. (1999). Aprendizagem: Comportamento, linguagem e cognição (4a ed.). Porto Alegre: Artmed. (Obra original publicada em 1998).
De Souza, D. G. (1999). O que é contingência? In R. A. Banaco (Org.), Sobre comportamento e cognição: Aspectos teóricos, metodológicos e de formação em análise do comportamento e terapia cognitivista (2a ed.) (pp. 82-87). Santo André: ESETec.
Ferster, C. B. (1972). An experimental analysis of clinical phenomena. The Psychological Record, 22(1), 1-16. https://doi.org/10.1007/BF03394059
Guilhardi, H. J. (1988). A formação do terapeuta comportamental: Que formação? In H. W. Lettner, & B. P. Rangé. (Eds.), Manual de psicoterapia comportamental (pp. 313-321). São Paulo: Manole.
Guilhardi, H. J. (2002). Resistência do cliente a mudanças. In H. J. Guilhardi, M. B. B. P. Madi, P. P. Queiroz, & M. C. Scoz (Orgs.), Sobre comportamento e cognição: Contribuições para a construção da teoria do comportamento (vol. 9, pp. 133-156). Santo André: ESETec.
Guilhardi, H. J. (2003). Tudo se deve às consequências. Instituto de terapia por contingências de reforçamento. Recuperado de: https://itcrcampinas.com.br/pdf/helio/tudo_consequencias.pdf
Guilhardi, H. J. (2004). Terapia por contingências de reforçamento. In C. N. Abreu & H. J. Guilhardi (Eds.), Terapia comportamental e cognitivo-comportamental: Práticas clínicas (pp. 3-40). São Paulo: Roca.
Guilhardi, H. J. (2010). História de contingências de reforçamento. Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento. Recuperado de: https://itcrcampinas.com.br/helio/historia.pdf
Guilhardi, H. J. (2021). Seleção por consequências: A breve história de um terapeuta comportamental. In B. A. Strapasson, A. Dittrich, & R. N. Cruz (Orgs.), História da análise do comportamento no Brasil em autobiografias (vol.1, pp. 181-226). Curitiba: UFPR.
Johnston, J. M., Pennypacker, H. S., & Green, G. (2019). Strategies and tactics of behavioral research and practice (4th ed.). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/978131553708
Kanfer, F. H., & Saslow, G. (1976). An outline for behavioral diagnosis. In E. J. Mash, & L. G. Terdal (Eds.), Behavior therapy assessment (pp. 20-40). New York: Springer Publishing Company.
Keller, F. S., & Schoenfeld, W. N. (1974). Princípios de psicologia: Um texto sistemático na ciência do comportamento (C. M. Bori, & R. Azzi, Trads.). São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária. (Obra original publicada em 1950).
Matos, M. A. (1995). O behaviorismo metodológico e suas relações com o mentalismo e o behaviorismo radical. In B. Rangé (Org.), Psicoterapia comportamental e cognitiva: Pesquisa, prática, aplicações e problemas. (pp. 27-34). Campinas: Editorial Psy.
Millenson, J. R. (1975). Princípios de análise do comportamento (A. A. Souza, & D. Rezende, Trads.). Brasília: Coordenada. (Obra original publicada em 1967).
Sidman, M. (1960). Tactics of scientific research: Evaluating experimental data in psychology. New York: Basic Books.
Skinner, B. F. (1945). The operational analysis of psychological terms. Psychological Review, 52(5), 270–277. https://doi.org/10.1037/h0062535
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: McMillan.
Skinner, B. F. (1957). Century psychology series. Verbal behavior. East Norwalk: Appleton-Century-Crofts. https://doi.org/10.1037/11256-000
Skinner, B. F. (1974). About behaviorism. New York: Knopf.
Skinner, B. F. (1981). Selection by consequences. Science, 213(4507), 501-504. https://doi.org/10.1126/science.7244649
Wolpe, J. (1973). The practice of behavior therapy (2nd ed.). Elmsfold: Pergamon.